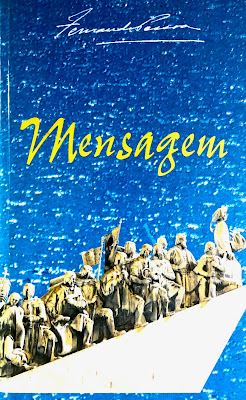Único livro publicado em vida por Fernando Pessoa, um ano antes de sua morte,
Mensagem é uma obra que, em mais de oito décadas, ganhou várias edições e ainda hoje suscita debates e diferentes interpretações de críticos e estudiosos que se dedicam à fortuna literária deixada pelo escritor português. Hoje, 13 de junho, dia do nascimento do poeta, mais uma vez
Mensagem vem a lume pela extraordinária engenhosidade poética, e pelas características peculiares de livro épico com os pés no mundo, na modernidade.
Entre a poesia e o poeta existe um imenso mar. E há muito tempo pesquisadores aventuram-se na marcha inglória de compreender esse mar de hipóteses que vai muito além do Bojador, o limite entre homem e o mundo. Mas, entre compreender, impassível, e mergulhar nas águas salgadas de Pessoa, é melhor seguir viagem, ainda que apenas “fitando a proibida azul distância”.
Há 25 anos, a Academia Maranhense de Letras, numa iniciativa do seu então presidente Jomar Moraes, e com o apoio do empresário português Manoel Alves Ferreira, do Grupo Lusitana, empreendeu uma edição histórica da obra de Pessoa, por ocasião da passagem dos 60 anos de morte do poeta.
A
Mensagem maranhense de 1995, com uma versão extra, limitada, impressa em capa dura – os cinquenta exemplares, devidamente numerados, não chegaram a ser vendidos – contém texto introdutório e notas assinados por Jomar Moraes, além de recheio iconográfico que ajuda a compor a biografia do poeta e a dinâmica da sua poesia, como a foto de uma tela do artista plástico Floriano Teixeira retratando a lenda do Rei Dom Sebastião.
Segundo o professor Ivo Castro, à época coordenador do Grupo de Trabalho para o Estudo do Espólio e Edição da Obra Completa de Fernando Pessoa, o livro impresso no Maranhão era, até aquele período de sua publicação, a “melhor e mais completa” edição de
Mensagem. Isso porque, segundo apurou o escritor e acadêmico Sebastião Moreira Duarte, a edição maranhense fez um criterioso cotejo da edição com os poemas originais datilografados e corrigidos à mão por Fernando Pessoa. Os originais, reproduzidos em páginas do livro da Academia Maranhense de Letras, foram trazidos a São Luís por Ivo Castro, que também fez a revisão final da obra.
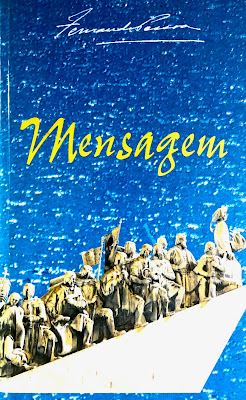
O primeiro poema de
Mensagem foi escrito em 1913, quando Pessoa tinha 25 anos: “Cheio de Deus, não temo o que virá,/ Pois, venha o que vier, nunca será/ Maior do que a minha alma”. Mas o livro, cujo título inicial era
Portugal, só foi publicado em 1934, quando o autor, incentivado por amigos a participar do Prêmio Antero de Quental, do Secretariado Nacional de Informação, o SNI do governo português, reuniu às pressas alguns dos poemas escritos naqueles últimos vinte anos.
O concurso tinha como objetivo premiar em cinco mil escudos o melhor livro de poesia com estampa nacionalista. Portugal vivia, em 1934, o Estado Novo e estava sob o comando de António de Oliveira Salazar, que reproduzia no país o modelo do fascismo italiano de Mussolini.
O regulamento do concurso exigia um livro com o mínimo 100 páginas. Os 44 poemas de
Mensagem, somados a algumas folhas em branco enxertadas de última hora no livro, não chegavam às 100 páginas e o conjunto da obra não era exatamente a exaltação patriótica almejada pela comissão julgadora do certame. Nem mesmo por António Ferro, presidente do júri e amigo de Pessoa.
O Prêmio Antero de Quental foi conferido ao missionário franciscano Vasco Reis pelo livro
Romaria, de forte carga ufanista e religiosa, como o próprio título sugere. A Fernando Pessoa coube uma condecoração de segunda categoria, como poesia solta, um prêmio de consolação arranjado por António Ferro, também no valor de cinco mil escudos.
O escritor Sebastião Moreira Duarte aponta em pesquisa que há um elo entre Vasco Reis e um nome maranhense. O vencedor do Prêmio Antero de Quental foi seminarista no Colégio Seráfico de Montariol, em Braga, Portugal, por onde também passou o poeta Bandeira Tribuzi, entre os 10 e os 18 anos de idade. Além de contemporâneos, ambos teriam publicado juntos poemas na revista
Alvorada Missionária.
Muitas vozes na Mensagem de Pessoa
Mensagem é uma obra aberta, um labirinto cheio de pistas, mas em determinadas passagens a leitura pede conhecimento mínimo da história de Portugal. Os 44 poemas estão divididos em três partes: Brasão, que aborda as origens de Portugal e estende-se até princípios da expansão marítima; Mar Português, que alcança o apogeu das conquistas marítimas de Portugal; e O Encoberto, que esboça a mística do sebastianismo.
Mas no meio de tudo está a lírica de Fernando Pessoa, capaz de dialogar com o imaginário de qualquer leitor, a exemplo de versos como estes: “Vale a pena? Tudo vale a pena/ Se a alma não é pequena” (o mais famoso deles); “Os Deuses vendem quando dão”; “A vida é breve, a alma é vasta:/ Ter é tardar”; “Triste de quem é feliz!”.
A ordem de apresentação dos poemas no livro não segue a cronologia da escrita. Como são poesias compostas em diferentes épocas, ao longo de quase 21 anos, Pessoa deu a elas uma certa unidade de compreensão, com base em personagens e passagens da história.
Mensagem começa onde
Os Lusíadas, a epopeia de Luís Vaz de Camões, provavelmente termina.
Há quem veja, nas entrelinhas, um diálogo entre as obras de Camões e Pessoa, embora em
Mensagem não haja sequer uma menção a
Os Lusíadas ou a Camões. Para o crítico literário Harold Bloom, Fernando Pessoa aprendeu a conviver com a “angústia da influência” de Luís de Camões. Ainda em 1912, Pessoa falava, em artigo sobre a nova poética portuguesa, de “uma renascença extraordinária, um ressurgimento assombroso”, capaz de gerar um supra Camões. Na avaliação dos estudiosos, Pessoa falava de si ao profetizar a chegada de um novo “Grande Poeta” em Portugal.
Apesar de fazer referências explícitas ao passado glorioso, a poesia de Fernando Pessoa em
Mensagem tem na sua essência obsessão por aquilo que ainda viria a acontecer, servindo-se, para tanto, de múltiplos recursos enigmáticos, adivinhações, presságios.
Ó mar salgado, quanto do teu sal
São lágrimas de Portugal!
Por te cruzarmos, quantas mães choraram,
Quantos filhos em vão rezaram!
Quantas noivas ficaram por casar
Para que fosses nosso, ó mar!
(
Mar português)
Embora premiado em plena era do salazarismo – a tendência fascista mais duradoura da Europa –, os poemas de
Mensagem são uma espécie de antítese ao discurso de Salazar, reconhecidamente descritivo, racional e enfadonho. A retórica de Salazar pregava um povo anestesiado no silêncio. Para ele, e em geral para o fascismo, o importante era o todo, e não o indivíduo. Com base nos feitos grandiosos do passado, seria Salazar “um predestinado a salvar o povo português”.
Com
Mensagem, Fernando Pessoa embaralha passado, presente e futuro, com sua profusão de vozes – algo tão comum em suas dezenas de heterônimos – dentro de cada poema. Durante algum tempo, o fascismo de Salazar “apoderou-se” do livro de Pessoa, o que rendeu à obra do poeta um distanciamento longo e deliberado por parte do público e da crítica.
Só com o fim do salazarismo, e após a Revolução dos Cravos, já na década de 1970, Pessoa passou a ser cultuado como um poeta transgressor, de viés libertário, não vinculado a qualquer regime político, mas à sua pena somente, ao bom teatro do fingimento.
Mensagem não reflete, portanto, um nacionalismo cego, exacerbado. Há nele um país que enxerga o passado glorioso, mas que está ainda, como no último poema do livro, o enigmático
Nevoeiro, preso em um presente turvo. O verso final é uma convocação otimista para o triunfo futuro: “É a hora!”.
Mensagem é uma permanente procura do homem pela sua origem, pela sua alma.
O sebastianismo à espreita
O lado visionário e místico de Pessoa, a inquietação da personalidade, a complexidade e as contradições estão associados ao sebastianismo que, como dizem, é um pedaço indissociável da alma portuguesa. Sebastião, “O Desejado”, viveu no século XVI, assumiu o reinado de Portugal e Algarves aos 14 anos e desapareceu na batalha de Alcácer-Quibir contra os mouros.
Desde então, surgiu a lenda de que Dom Sebastião, como um messias redentor, voltaria das Ilhas Afortunadas numa manhã de nevoeiro para instalar no mundo o Quinto Império, um poder divino que emanaria de Portugal, profecia difundida pelo sapateiro Gonçalo Bandarra e também popularizada pelo padre António Vieira, a quem Pessoa chama em
Mensagem de “Imperador da língua portuguesa”.
Triste de quem vive em casa,
Contente com o seu lar,
Sem que um sonho, no erguer de asa,
Faça até mais rubra a brasa
Da lareira a abandonar.
(
O Quinto Império)
É por meio da imagem do sebastianismo que Fernando Pessoa reconstrói a lenda de Bandarra e Vieira para acender a chama, entre os portugueses, da identidade nacional, perdida ao longo de anos de declínio e ostracismo. Pessoa faz uma releitura da lenda para moldar aquilo que define de sebastianismo racional: “Mas a chama, que a vida em nós criou/ Se ainda há vida ainda não é finda”.
A lenda do Rei Dom Sebastião atravessou o Atlântico e veio ilustrar a imaginação popular e a literatura nos trópicos. O sebastianismo está presente em obras dos maranhenses Ferreira Gullar, Bandeira Tribuzi, Manoel Caetano Bandeira de Mello e Josué Montello, dentre outros.
Da costa africana para o litoral norte do Brasil. Sob as dunas da Ilha dos Lençóis, no município maranhense de Cururupu, dizem que habita o Rei Dom Sebastião. Segundo a crença popular, nas noites de São João “O Encoberto” surge em forma de um touro negro correndo assustadoramente pela praia.
“O encantamento do rei terminará no dia em que alguém que testemunhe a aparição se revista da necessária coragem para fazer na testa estrelada do touro uma incisão de que jorre sangue (...). O maremoto ocasionado por tal acontecimento fará submergir, na fúria das águas revoltas, a ilha de São Luís do Maranhão”, relata Jomar Moraes no livro
O rei-touro e outras lendas maranhenses – trecho também citado na nota introdutória da edição maranhense de
Mensagem.
Ou seja, na crendice que chegou ao Maranhão, bem como a outras paragens, a imagem do Rei Dom Sebastião não está associada a esperança ou redenção. No caso da Ilha dos Lençóis, onde existe até um pequeno memorial dedicado ao regente português, o símbolo do rei-touro remete a mistério, medo e tragédia: “Que guarda o Rei desterrado/ Em sua vida encantada?”.
O baú musical do poeta
Em 1985, na passagem dos 50 anos de morte de Fernando Pessoa, um cineasta e músico baiano, igualmente visionário, iniciou uma jornada que duraria 30 anos até o lançamento de um “baú” contendo três CDs e dois DVDs com gravações musicais dos 44 poemas de
Mensagem. André Luiz Oliveira, há anos radicado em Brasília, fez história ao reunir no projeto grandes nomes da música brasileira, portuguesa e cabo-verdiana, em interpretações arrebatadoras.
André Luiz conta que foi “abduzido” pela poesia de Fernando Pessoa ainda na adolescência, nos anos 1960, e também quando passou uma temporada em Lisboa, onde conviveu com artistas e chegou a tocar na noite, na década de 1970. “Com o tempo, esse contato com a poesia de Pessoa virou admiração e as coisas foram acontecendo por uma questão de necessidade, ou talvez magia”. Segundo André Luiz, essa admiração transformou-se em encantamento. “Com o tempo, fui alimentando uma paixão enorme pela vida e obra do poeta, atordoado por saber que ele falava tão profundamente de mim mesmo”.

O primeiro espanto de André Luiz com a obra de Pessoa ocorreu pela TV, ao assistir a Caetano Veloso interpretando a provocadora
É proibido proibir no Festival Internacional da Canção, em 1968. “Aquilo era um hino convocatório para nós, que vivíamos aquele momento de virada de costumes, brigando contra a ditadura militar, querendo mudar o mundo”. Em determinado trecho da música, entre solos estridentes de guitarra, Caetano vociferava Pessoa:
Caí no areal e na hora adversa
Que Deus concede aos seus
Para o intervalo que esteja a alma imersa
em sonhos que são Deus. (…)
(
D. Sebastião)
Os versos ecoaram por algum tempo. Então, em 1985 o baiano resolveu transformar em melodia os poemas de
Mensagem. E diz que as músicas surgiram em sua cabeça quase que subitamente, “algo sem explicação”. Compôs 12 faixas, de uma assentada, e convidou para interpretá-las nomes como Caetano Veloso (
Padrão), Gilberto Gil (
Prece), Zé Ramalho, Belchior, Moraes Moreira, Ney Matogrosso, Elizeth Cardoso, Gal Costa e Elba Ramalho. Ou seja, um time de primeira grandeza da MPB associado a interpretações da fadista Glória de Lourdes e do próprio André Luiz. E tudo isso com arranjos de Francis Hime.
Com o patrocínio da Gradiente, e as músicas já devidamente gravadas, no início de 1986 André Luiz procurou o governo federal para apresentar o projeto, que previa ainda a gravação de um videoclipe para cada música e a prensagem de um LP. No restaurante Beirute, em Brasília, conheceu o publicitário maranhense Fábio Gomes, que era adjunto da secretaria executiva do recém criado Ministério da Cultura. André apresentou o projeto a Fábio, que ficou impactado com o que ouviu.
Sarney estava com viagem programada em maio de 1986 para Portugal, onde receberia o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade de Coimbra. E pediu à equipe do Ministério da Cultura que providenciasse um presente protocolar a ser entregue na visita ao presidente português Mário Soares. Fábio Gomes sugeriu a Sarney que levasse um vídeo com os poemas de Fernando Pessoa cantados por artistas brasileiros.
Com o sinal verde de Sarney, André Luiz e Fábio Gomes tiveram pouco mais de um mês para a gravação de videoclipes com cada um dos intérpretes. Montaram uma equipe de quatro diretores publicitários, entre os melhores do Brasil, para o registro dos clipes em diferentes cenários.
Gil cantou
Prece na catedral de Brasília; Gal Costa interpretou
Nevoeiro nos jardins da Embaixada de Portugal; Elba Ramalho gravou
O Infante na Restinga da Marambaia; e André Luiz Oliveira usou o litoral baiano para dar vida a
Mar salgado, só para citar alguns. O poeta e crítico Mário Chamie escreveu o texto do vídeo – com base nos poemas de Pessoa, intercalando as músicas – que foi narrado pelo ator Raul Cortez.
Foi com o resultado de toda essa produção que Sarney desembarcou em Lisboa, três meses depois de ter lançado no Brasil o Plano Cruzado. O vídeo, entregue a Mário Soares com o título de “Mensagem a Portugal”, causou tanto impacto que foi exibido em horário nobre pela emissora RTP durante toda a semana da visita de Sarney.
Ainda no segundo semestre de 1986 o LP foi lançado pela gravadora Eldorado, com as 12 faixas e 30 mil cópias encomendadas pela Gradiente para distribuição a instituições acadêmicas, imprensa, parceiros e clientes.
Em 2003, André Luiz Oliveira lançou o disco
Mensagem 2, dessa vez em CD e DVD, com outros poemas do livro de Pessoa, arranjos de Leandro Braga e a inclusão de novos intérpretes, como Milton Nascimento (
D. Tareja), Daniela Mercury (
Os Colombos) e Cida Moreira (
Ocidente). O maranhense Zeca Baleiro participa da segunda edição do projeto interpretando
Ulisses.
Em 2012, o cineasta e músico baiano iniciou as gravações do disco
Mensagem 3, em São Paulo, Salvador e Lisboa, fechando o ciclo musical dos 44 poemas do livro de Fernando Pessoa. No terceiro CD, outra participação maranhense. A dupla Criolina (com Alê Muniz e Luciana Simões), convidada pelo produtor Deco Gedeon, interpreta
Antemanhã. O disco conta ainda com Carlinhos Brown, Cláudia Leitte, Rubi, Zélia Duncan e outros.
Em 2015, 30 anos depois do início da jornada, André Luiz lançou uma caixa em madeira, simulando o formato do baú de escritos de Fernando Pessoa e seus heterônimos, com as três edições musicais de
Mensagem em CD; dois DVDs com clipes, entrevistas, depoimentos e
making of do projeto; uma edição do livro com os poemas; e um caderno de imagens colhidas por André Luiz ao longo dos anos de pesquisa sobre a vida e a obra do poeta.

“A minha ideia era fazer alguma coisa que chegasse próximo do tamanho que é Fernando Pessoa”, disse André Luiz Oliveira, que hoje, às 18h, faz no Youtube e no Facebook uma homenagem ao aniversário do poeta, com música e recital de poesias. “Pessoa é uma paixão que não cessa. É uma relação que se mantém viva na minha alma”.
E que, certamente, transcendeu para a alma de muitos amantes da obra do poeta português. A
Mensagem musical de André Luiz é algo feérico, digno da poesia de Pessoa: “(...) É o som presente desse mar futuro,/ É a voz da terra ansiando pelo mar”.